Como começar falando de Woody Allen e terminar com VMA's (passando por "Breaking bad")

Até os últimos três, talvez quatro minutos de "Homem irracional" eu estava adorando este último trabalho de Woody Allen. Afinal, ele carrega a mensagem básica que o diretor coloca em seus melhores filmes - de "Poderosa Afrodite" a "Crimes e pecados", passando por "O sonho de Cassandra" e, sobretudo "Match point". Que mensagem é essa? A de que se as pessoas não ficam sabendo de um determinado evento, ele praticamente não aconteceu.
Porém, no finalzinho do filme, eu passei a gostar ainda mais! O diretor - de maneira inédita, pelo menos para mim (e olha que sou seguidor assíduo de todos seus filmes) - muda essa regra. E, de uma maneira que não posso nem ousar contar aqui para não estragar seu prazer de assistir a "Homem irracional", a história tem um final surpreendente. Não apenas como uma "virada de roteiro" - que em inglês geralmente aparece como "plot twist" - mas uma "virada" na própria maneira como o diretor vê o mundo. Tudo sempre por conta do acaso...
Falar sobre o que vem antes no filme, porém, não entrega muita coisa. Joaquim Phoenix faz o papel de um professor de filosofia, Abe, que é uma espécie de superstar. Imagino que conceber um personagem desses por aqui é um ato de fantasia mais surreal do que criar um garoto de quatro cabeças alado - mas acredite: num universo onde as pessoas pensam e querem aprender a pensar mais, isto é, no circuito universitário, tal criatura não apenas é possível como tem credibilidade.
A chegada de Abe no campus é aguardada com ansiedade - e um certo pé atrás. Sua fama é de um pensador liberal, que inclusive vê com certo desprezo o papel da própria filosofia no nosso dia-a-dia. Mas, mais interessante ainda, o professor também é conhecido como um grande conquistador. O que já faz com que os hormônios de alunas e professoras comecem a se descontrolar.
No time das professoras, Rita (Parker Posey num surpreendente renascimento) faz a mulher de quase 50 anos que quer testar seu decrescente poder de sedução - que já não segura nem mesmo seu casamento - com Abe.
As primeiras tentativas - obstruídas pela impotência "psicológica" do professor - não são um impedimento para ela. Mas Rita enfrenta concorrência pesada de uma aluna de Abe, Jill, vivida por Emma Stone - que é, já no segundo filme com o diretor, sua nova musa (algo que este espectador só tem a aprovar - fui só eu que achei que a única coisa boa de "Birdman" é aquela cena em que ela esculacha com seu pai, interpretado por Michael Keaton, ou será que eu divago?). Sendo um homem de mais de 40 anos, o personagem de Phoenix não decepciona: cai como presa fácil na direção da opção mais jovem.
Essa trama, mais que surrada - mesmo na filmografia de Woody Allen - é, porém, só um pano de fundo. É num encontro com Jill que, por acaso numa lanchonete, os dois ouvem uma conversa que muda o destino de Abe. Não quero contar muito, mas vamos falar aqui, só para o texto poder seguir fazendo um mínimo de sentido, que o professor descobre uma coisa errada que ele acha que pode transformá-la em certa.
Usando sua filosofia distorcida, ele crê que, se cometer um crime, pode mudar a vida de uma pessoa que ele nem conhece para melhor - e isso, apenas isso, já justificaria sua existência na Terra. Falando em ética e moralidade...
Allen mais uma vez tem o dom de nos conduzir por pensamentos grandes com histórias do nosso cotidiano - e só por isso o filme já é um primor de entretenimento (especialmente para um espectador que, como eu, está cansado de ver tramas que não fazem sentido na tela grande). Mas dessa vez, melhor ainda que em, como já citei, "Match point", um crime (mesmo cometido em segredo) nunca é exatamente perfeito. Vivemos à mercê do acaso, tolos, sempre achando que nossas decisões são as coisas mais importantes deste mundo...
Somos, na verdade, uns coitados - quase trouxas - achando sempre que somos donos das nossas ações. E, pior, como o professor parece comprovar, temos a prepotência de achar que podemos mudar, com uma atitude nossa, a vida dos outros. Só que não.
O tal final inesperado de "Homem irracional" - alias, título perfeito (traduzido literalmente do original) para um perfil de alguém que tem certeza de que é superior - não apenas nos pega de surpresa. Ele também nos recoloca no mundo, retoma a nossa insignificância e reforça a ideia de que crime e castigo nem sempre andam juntos. Quem manda sempre é mesmo o acaso. Pergunte a Walter White.
Na mesma semana em que vi "Homem irracional", terminei as longas cinco temporada da série que tirou do sério boa parte das pessoas cujo gosto - e juízo - eu respeito. Lamento informar, porém, que o mesmo não aconteceu comigo. Não é uma série ruim - que fique bem claro que não me arrependo nem um pouco de tê-la conferido, ainda que atrasado (levei uns bons dois meses para completar a tarefa - ao contrário de meus amigos que viravam noites sem dormir por não parar de conseguir ver, sentia apenas uma curiosidade branda a cada episodio).
Também não ouso dizer que é uma série mal escrita - ainda mais quando temos como referência uma produção nacional tão carente deste talento. Mas, talvez pelo "hype" - mais de um conhecido meu não conseguia discutir "Breaking bad" sem hiperventilar! - ou por pura teimosia, acompanhei tudo com um certo olhar rabugento. Que ficou, reforço, plenamente satisfeito com a conclusão da série. Mas que também se aborreceu bastante com longos momentos em que toda a trama parecia se arrastar.
Como em toda a primeira temporada, por exemplo, quando a sensação que eu tinha era a de que eu estava vendo o mesmo episódio inúmeras vezes. Ok, eu concordo com o argumento de que, para o personagem entrar em você, é preciso que ele cresça num processo lento assim... Mas o problema é que não me encantei com Walter White logo de cara - e, sendo assim, não "comprei por inteiro" sua saga.
Ele é chatíssimo - e irracional de uma maneira que faz Abe, de Woody Allen, parecer uma obra-prima cartesiana. A justificativa para a escalada de suas loucuras - a família - vai ficando cada vez mais absurda, e só se torna honesta mesmo no último diálogo que vemos de Walt com sua mulher Skylar. Nesse desgaste, fui me decepcionando aos poucos, com minha vontade de seguir em frente mantida por um punhado de excelentes episódios - sobretudo na terceira temporada.
A quinta, onde o protagonista perde totalmente a cabeça, começa como farsa, e é "manchada" por mais coincidências do que o próprio Woody Allen se permitiria num roteiro - e só fica realmente empolgante nos últimos seis episódios, quando Walt está muito próximo de ser capturado (para quem não sabe de nada da série, ele é um professor de química que descobre que tem câncer e que pode fazer uma pequena fortuna no final de sua vida produzindo a metanfetamina mais pura que o mercado já conheceu). O saldo, porém, é positivo - se não inspirador. Afinal, tudo isso é "show business", uma negócio que os americanos elevaram à categoria de arte.

O que nos leva então à festa de ontem à noite do Video Music Awards 2015, transmitido ao vivo pela internet. "That's entertainment"! Se você não acompanhou integralmente, pode pelo menos pegar alguns dos melhores momentos no site da MTV americana - e ver com seus próprios olhos como uma festa deve ser feita. Não estou provocando nenhuma premiação nacional, mas sim todas as outras, mesmo as americanas. O que vi ali, foram mais de duas horas de puro entretenimento - não só nos efeitos, cenários e iluminação feéricas, mas na própria inteligência do roteiro, das situações que ele criava, e na ousadia geral.
Podia começar com a cartada mais fácil: Miley Cyrus, que era a mestre de cerimônias (uma em si bizarra e maravilhosa) tirando uma selfie e pedindo para todo mundo que queria sair na foto dizer "marijuana" (maconha) bem alto na hora de sorrir. Quer provocar alguém? Não conheço pontapé inicial melhor. Mas a festa toda teve vários momentos inspirados - muitos deles escritos pelos roteiristas e outros de pura espontaneidade, graças ao talento e à inteligência de artistas convidados. Prova disso: o discurso de Kanye West que terminava com ele lançando sua candidatura para a presidência dos Estados Unidos em 2020.
Você consegue imaginar um artista como os que conhecemos aqui, comportadinho, interessado apenas em encher uma plateia, provocar as próprias pessoas que foram lá para vê-las? A palavra de ordem no nosso pop é fazer direitinho para ganhar dinheiro e não causar muita confusão. Não é à toa que nossas paradas estão do jeito que estão...
Vamos virar uma ou duas gerações até conhecermos uma maluca como Nicki Minaj - ou ver uma artista do porte de Miley (guardadas as proporções para o território nacional) entrar no palco com um corpo de baile só de drag queens numa festa que tem a dimensão do VMA's...
Estou, claro, um pouco desanimado com tudo que vejo e leio e ouço e sinto. Está na cara. Mas quem sabe não estamos diante de uma grande virada cultural - não no relógio, mas nas nossas mentes. Ou isso - ou eu viro logo um homem irracional... Já ouviu aquela expressão: "Ignorance is a bliss"?
(FOTOS: No topo, cena de 'Homem Irracional' - CRÉDITO: Divulgação / No meio, cena de Breaking Bad - CRÉDITO: Divulgação / No fim da página, Miley Cyrus durante performance no MTV Video Music Awards - CRÉDITO: Matt Sayles/Invision/AP)




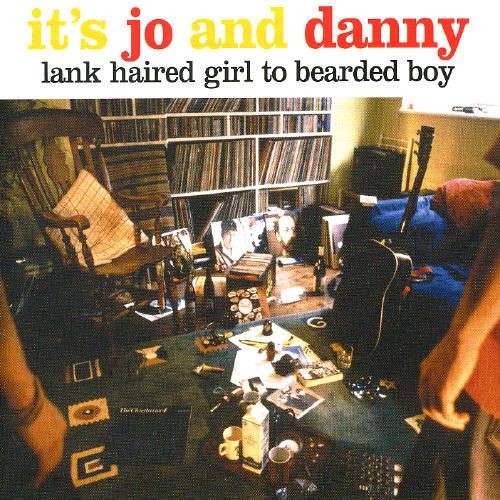

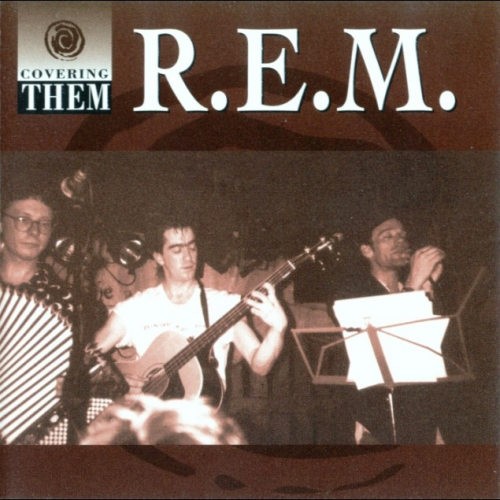









 Aliás, quero começar por este final. Depois de quase duas horas praticamente só ouvindo Nina Simone falar, cantar e tocar, você imagina que já está um pouco acostumado a sua genialidade. Mas aí ela entra, senta em rente ao piano Bösendorfer - a única coisa que realmente vale a pena, como ela sugere, naquele momento - e te convence novamente de existiram (ou existem) poucos artistas como ela, capazes de pegar uma música que já é sensacional e transcender com ela para outro patamar.
Aliás, quero começar por este final. Depois de quase duas horas praticamente só ouvindo Nina Simone falar, cantar e tocar, você imagina que já está um pouco acostumado a sua genialidade. Mas aí ela entra, senta em rente ao piano Bösendorfer - a única coisa que realmente vale a pena, como ela sugere, naquele momento - e te convence novamente de existiram (ou existem) poucos artistas como ela, capazes de pegar uma música que já é sensacional e transcender com ela para outro patamar. 