Editando o genoma humano
 Muitas novidades científicas, discutidas amplamente em âmbito internacional, às vezes demoram a chegar no Brasil. Na área de células-tronco isso é ainda mais preocupante. Lembro que o país ainda refletia sobre o uso de células-tronco embrionárias humanas quando o mundo já tinha deixado essa discussão de lado pela reprogramação genética. Acredito que a restrita massa crítica nacional nessa área, somando-se à superficialidade das relações internacionais típicas da nossa comunidade científica, sejam parte do problema. Mas isso não vem ao caso agora.
Muitas novidades científicas, discutidas amplamente em âmbito internacional, às vezes demoram a chegar no Brasil. Na área de células-tronco isso é ainda mais preocupante. Lembro que o país ainda refletia sobre o uso de células-tronco embrionárias humanas quando o mundo já tinha deixado essa discussão de lado pela reprogramação genética. Acredito que a restrita massa crítica nacional nessa área, somando-se à superficialidade das relações internacionais típicas da nossa comunidade científica, sejam parte do problema. Mas isso não vem ao caso agora.
Recentemente, grupos de cientistas de diversas nações vêm se reunindo para discutir restrições ao uso de enzimas de edição do genoma em células-tronco pluripotentes. A ideia é gerar um moratório sobre alterações no DNA que possam ser transmitidas de forma hereditária. O assunto é polêmico e importante, por isso resolvi tratá-lo aqui, na esperança de alertar autoridades nessa área do conhecimento para que o país não continue passivo nessas discussões.
Nas últimas décadas, enzimas artificiais que modificam o DNA tem ficado cada mais fáceis de usar e acessíveis. Além disso, nos últimos anos essas enzimas estão cada vez mais específicas, como no caso das CRISPR/Cas9, enzimas altamente eficientes. É difícil encontrar um laboratório de biologia molecular hoje em dia que não esteja utilizando essas ferramentas.
A facilidade assusta: da mesma forma que a tecnologia pode ser usada para corrigir defeitos genéticos em doenças humanas, pode também ter aplicações estéticas ou cognitivas, como a busca de uma maior inteligência. De forma simples, pode-se hoje em dia manipular a hereditariedade humana, algo que alguns anos atrás era considerado apenas teórico. É justamente esse o dilema ético que está sendo fervorosamente discutido no mundo.
Com o poder de reparar ou alterar qualquer gene humano, estamos nos confrontando com uma questão fundamental sobre decidir o futuro genético da humanidade daqui para frente. Seria tomar o controle ativo da nossa própria genética, interferindo nas forças naturais da seleção natural.
Na Europa e nos EUA, a ideia é criar um consenso sobre o uso dessas ferramentas de edição genética. Nos EUA, por exemplo, é muito provável que qualquer uso humano tenha que ser aprovado pelo FDA (Food and Drug Administration), órgão fiscalizador americano.
Porém, existe uma preocupação com países que ainda não começaram a perceber importância dessas discussões e, portanto, estariam ainda relaxados ou desprevenidos nas questões regulamentais. Uma preocupação é do estabelecimento de clínicas em “paraísos biotecnológicos mais flexíveis”, se aproveitando do atraso nessa discussão ética para começar trabalhos envolvendo edição de células germinativas.
Ao contrário do conceito de terapia gênica, cujas alterações genéticas morrem junto com o indivíduo, a manipulação em células germinativas propagaria novas variantes genéticas direto no pool genético de populações humana. As consequências são difíceis de se imaginar, pois sabemos muito pouco sobre como o ambiente altera ou interage com o genoma. O mesmo pode-se dizer quando aplicarmos esse conhecimento em modelos animais: corremos o risco de alterar completamente a biosfera, afetando o estilo de vida de diversos seres vivos no planeta.
Do ponto de vista ético, existem pelo menos duas visões sobre a modificação em células germinativas: uma é pragmática e busca o balanço entre o risco e o benefício; a segunda sugere que a humanidade teria que impor limites no que é possível.
Na teologia, católicos são, em geral, contrários à ideia de “brincar de Deus”. Já outras religiões, como o islamismo, acreditam que é função humana melhorar o mundo. Dá para perceber que não existe consenso e será preciso discutir o assunto considerando diferentes perspectivas.
Semana passada, a Sociedade Internacional de Células-Tronco divulgou um memorando dando apoio ao uso científico, em laboratório, mas restringindo o uso clínico dessa tecnologia de edição genética, pelo menos por enquanto. Acredito que a maioria dos países irão se posicionar rapidamente sobre o assunto, pois diversos grupos privados já estão se armando para oferecer esse tipo de alteração genética em futuras crianças.
Acredite, leitor, estamos vivendo um momento transformador, mesmo que você nunca tenha ouvido falar sobre isso antes pela mídia convencional. Estimular essa discussão fascinante no Brasil irá aproximar nossos cientistas e políticos das decisões internacionais nessa área, auxiliando a otimizar as discussões feitas pela sociedade brasileira no nascimento de uma nova era na biologia e genética. Não podemos perder o bonde mais uma vez.
Foto: Thinkstock
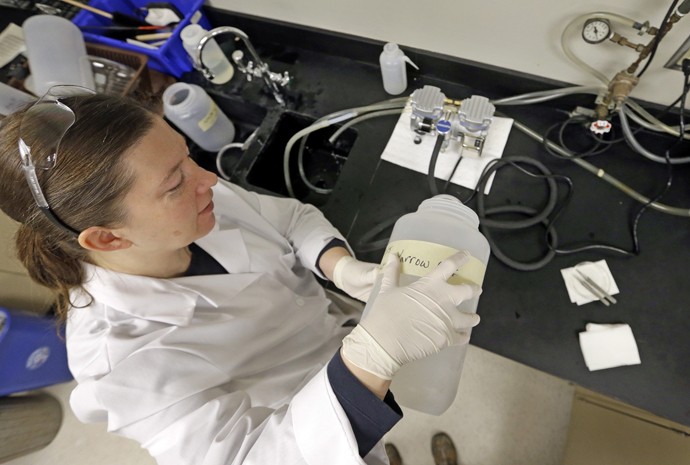
 Neurônios são células do cérebro que não se dividem e portanto, nossos neurônios nos acompanham por toda a vida. A divisão celular permite que certos tecidos rejuvenesçam, eliminando os efeitos deletérios do tempo. Como nossos neurônios não se dividem, eles acabam acumulando uma série de pequenos defeitos metabólicos ao longo da vida. Essa é uma das possíveis explicações do porquê a idade avançada seja um dos fatores de risco em certas doenças neurodegenerativas, como o mal de Alzheimer, condição caracterizada por uma severa perda de memória.
Neurônios são células do cérebro que não se dividem e portanto, nossos neurônios nos acompanham por toda a vida. A divisão celular permite que certos tecidos rejuvenesçam, eliminando os efeitos deletérios do tempo. Como nossos neurônios não se dividem, eles acabam acumulando uma série de pequenos defeitos metabólicos ao longo da vida. Essa é uma das possíveis explicações do porquê a idade avançada seja um dos fatores de risco em certas doenças neurodegenerativas, como o mal de Alzheimer, condição caracterizada por uma severa perda de memória.

 A doença do Monge é uma condição fisiológica que atinge mais de 140 milhões de pessoas que estão expostas a grandes altitudes (mais que 2.500 metros do nível do mar) por tempos prolongados. Nos Andes, a prevalência chega a 20%, sugerindo que a maioria dos “highlanders” são saudáveis. Porém, os que sofrem com o mal da montanha crônico são afetados por uma série de condições neurológicas, como fatiga, dor de cabeça, confusão mental e perda de memória. O quadro pode ser fatal se agravar para um edema cerebral, por exemplo.
A doença do Monge é uma condição fisiológica que atinge mais de 140 milhões de pessoas que estão expostas a grandes altitudes (mais que 2.500 metros do nível do mar) por tempos prolongados. Nos Andes, a prevalência chega a 20%, sugerindo que a maioria dos “highlanders” são saudáveis. Porém, os que sofrem com o mal da montanha crônico são afetados por uma série de condições neurológicas, como fatiga, dor de cabeça, confusão mental e perda de memória. O quadro pode ser fatal se agravar para um edema cerebral, por exemplo.