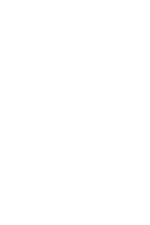folhas da cinemateca’s review published on Letterboxd:
"Não incorreremos em nenhum excesso se dissermos que o realizador suíço de origem portuguesa, Basil da Cunha, se empenha de corpo e alma num dos projetos mais interessantes do cinema contemporâneo. A primeira tentação será gastarmos mais palavras a descrever o processo do que o resultado obtido on screen. Porém, O Fim do Mundo é só a segunda longa-metragem do cineasta (lançada quase sete anos após Até Ver a Luz [2013]), pelo que ainda vamos ceder, aqui, às tentações fáceis perante um método tão frágil e arriscado, mas também tão humanamente rico, socialmente relevante e cinematograficamente poderoso. Ao mesmo tempo, também quero crer que aqui o filme é mesmo o processo: uma emanação direta da comunidade que vive na Reboleira, esse “fim do mundo” tão perto de nós, e ao mesmo tempo uma aproximação a géneros populares, pouco ou mal trabalhados no cinema português, tais como o gangster movie (mais Menace II Society [1993], dos irmãos Hughes, do que The Public Enemy [1931], de William A. Wellman) ou o filme de samurais (tanto Yôjinbô [1961], de Akira Kurosawa, quanto Ghost Dog: The Way of the Samurai [1999], de Jim Jarmusch). Após um longo período a cumprir pena numa Casa de Correção, Spira regressa ao seu bairro para retomar velhas amizades e rapidamente se inteirar das novidades, dando conta do processo de demolição em curso, de um problema sério com o lixo acumulado nas ruas e de crescentes tensões entre famílias, vizinhos e grupos rivais. Ao mesmo tempo que se parece precipitar, mais uma vez, para o mundo do crime, Spira busca uma solução para a sua vida, nomeadamente na companhia de Iara, rapariga tímida que lhe conquistou o coração. Não se trata de uma conformação ao cinema do mundo encontrado por Basil da Cunha nos subúrbios de Lisboa, mas, bem pelo contrário, de um contrato baseado numa absoluta cumplicidade e envolvimento, em que a estrutura narrativa e alguma iconografia oferecida pelos géneros populares servem de filtro para deixar escorrer a realidade de todos os dias, em todas as suas dificuldades (“Aqui não há miséria, só há dificuldades”, costuma dizer-se na Reboleira), mas não excluindo, bem pelo contrário, o espírito festivo, quase “carnavalesco”, da vida levada nos entornos da capital.
As pessoas da Reboleira não trabalham para Basil da Cunha, elas trabalham com ele, em evidente entrega e devoção por uma mesma grande causa: não a denúncia per se, mas o cinema em todas as suas possibilidades. A missão do filme traduz a vontade de, em conjunto, se fazer uma obra que permita contar a história daquele lugar e daquelas pessoas, mas não só. Aliás, o principal erro, se quisermos continuar a falar, acima de tudo, do processo que é o filme, será vermos Basil da Cunha como muitos críticos e académicos veem Jean Rouch: muito simplesmente, um realizador de documentários antropológicos ou etnoficcionais. Como o próprio explicou, em entrevista concedida ao website À pala de Walsh: “Quero que os meus amigos na Suíça gostem dos meus filmes. Mas quero é que o meu pai, que adora Clint Eastwood, vá ver os meus filmes e goste. Mas também quero que o IndieLisboa goste. E quando o pessoal vai à antestreia, quero pôr toda a gente a rir. E toda a gente a chorar. É uma ambição que eu tenho. E para isso não vou fazer planos sequência de 30 minutos.” Trabalhar para as suas gentes significa também, ou antes de tudo, fazer um filme que eles possam apreciar e aí os códigos do cinema de género afiguram-se providenciais.
Há um humor deadpan, às vezes absurdo ou feérico (vide a curta-metragem Nuvem [2011]), e cultiva-se um certo prazer pelo encontro e pela confraternização que lembra cineastas como Aki Kaurismäki ou Jim Jarmusch, mas as narrativas, de amor, de vingança e de redenção, devem muito aos géneros mais populares e de grande efeito. Se há humor, também encontramos um sentido épico que, no fim, radica nas pessoas, nos seus não-atores, intensamente seguidos e retratados pela câmara. Eles que, de maneira livre e espontânea, levam a vida na, apelidada no filme, “capital do stress”; eles que resistem a adversidades várias, desde logo, ao cerco montado pela pobreza ou pelo “cheiro a lixo”, o mesmo que faz Spira cometer um ato irrefletido, desencadeador de uma série trágica de acontecimentos na sua vida e na vida do bairro. A pobreza é talvez o mais visível dos vilões das suas histórias, mas acaba por ser relativamente pouco “enunciado”, pois nada aqui é retórico ou panfletário ou tampouco se deixa subjugar a demonstrações políticas. Dito de outro modo, tudo aqui contraria a lógica simples de exposição e exploração do cenário humano encontrado.
Veja-se o belíssimo friso de rostos final, filmado na perspetiva do carro funerário onde segue a principal vítima do fogo posto por Spira para acabar com os maus cheiros. Uma maneira de fechar esta história cheia de rostos e narrativas bem reais com uma espécie de carta de amor endereçada pelo realizador a cada uma destas pessoas, como quem diz, bem de dentro, que este filme não é só feito com elas, é feito, também, para elas, “delas para elas”, aparecendo, enfim, Basil da Cunha como um justo mediador, capaz de tornar “fins” em “princípios”. Um atento e sensível intermediário entre mundos, pondo à frente de tudo a fonte originária – e original – da sua arte: as pessoas, sempre elas."
Luís Mendonça